A Luta Antimanicomial e a garantia dos direitos das pessoas em sofrimento mental autoras de delitos
 |
| Secom/Penedo |
O 18 de maio foi escolhido como DIA NACIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL no Congresso de Trabalhadores de Saúde Mental, que ocorreu em 1987 em Bauru (SP), e que desde então é comemorado com atos públicos, práticas culturais, oficinas de música, de teatro e dança durante o mês de maio em todo o país.
A organização do Movimento da Luta Antimanicomial e as denúncias de violações de direitos dentro dos hospitais psiquiátricos provocaram a reformulação do estatuto jurídico e colocaram em pauta a necessidade de mudança da lógica de cuidado das pessoas em sofrimento mental, culminando na aprovação da Lei nº 10.216 em abril de 2001, também conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica.
A alteração normativa estabeleceu que a internação psiquiátrica é medida subsidiária indicada apenas nas situações em que os serviços comunitários extra hospitalares não forem suficientes, conforme § 3º e caput do art. 4º. Esta vedação impôs um novo modelo de cuidado em rede com serviços de saúde mental substitutivos aos manicômios e inseridos na comunidade, que busque priorizar políticas públicas de desinstitucionalização e respeito à autonomia das pessoas em sofrimento mental.
O Movimento da Luta Antimanicomial também repercute no tratamento dado às pessoas em sofrimento mental autoras de delitos e na busca por estratégias de reorientação da medida de segurança, instituto criado no final do século XIX e instituído no Código Penal brasileiro de 1940 como alternativa de tratamento para os considerados inimputáveis.
Em substituição à pena e sob a justificativa de segurança e “defesa social”, a criação da medida de segurança se fundamentou no rótulo da periculosidade, onde devia ser retirado das ruas e do convívio social toda pessoa que apresentasse “risco”, que fosse considerada perigosa para a sociedade e para si mesma. Surge aqui a figura do “criminoso nato”, “perigoso” que precisa ser neutralizado.
A saída das pessoas em sofrimento mental autoras de delitos do espaço manicomial está condicionada ao laudo que ateste a cessação de sua periculosidade, apenas com o prazo mínimo de um a três anos de internação estabelecido pelo Código Penal, art. 97, § 1º.
Este modelo que não define um limite máximo para a aplicação das medidas de segurança produz até hoje a segregação das pessoas em sofrimento mental autoras de delitos e a violação de seus direitos mais fundamentais, ao condicioná-las a Estabelecimentos de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (ECTPs), antigos manicômios judiciários, por tempo indeterminado.
A Lei nº 10.216/2001 interferiu no sistema de aplicação das medidas de segurança e nos ECTPs ao expor a inadequação do fundamento da periculosidade e do laudo de sua cessação como critério para determinar o período de internação. Com a mudança normativa, abriu-se espaço para confrontar o Código Penal e a não responsabilidade penal das pessoas em sofrimento mental autoras de delitos, este o motivo que as coloca em perpétuo abandono e segregação.
A criação de condições jurídicas que servem de base para políticas públicas e de assistência em saúde mental, voltadas para a prevenção e não mais o tratamento e internação das pessoas em sofrimento mental, produz uma nova forma de olhar a questão. O Movimento da Luta Antimanicomial continua provocando rupturas na lógica manicomial e nos conceitos estigmatizadores do Código Penal.
A necessidade de que as pessoas em sofrimento mental autoras de delitos sejam também responsabilizadas penalmente implica no respeito às garantias constitucionais de individualização da pena, na vedação da pena perpétua, no direito ao contraditório e à ampla defesa, e na efetiva garantia dos demais direitos fundamentais.
O entendimento no campo na saúde mental e na legislação nacional referente ao cuidado da pessoa em sofrimento mental já aduzem à ineficácia do tratamento em modelos manicomiais. Logo, é preciso problematizar o instituto da medida de segurança, em especial as estruturas de sua execução, com vistas a aproximar o tratamento das pessoas em sofrimento mental autora de delitos ao cuidado em saúde mental realizado em serviços substitutos na rede aberta de saúde.
| Autoras: | Ana Valeska de Figueirêdo Malheiro e Olívia Maria de Almeida são estudantes de graduação em Direito pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), integrantes do Grupo Loucura e Cidadania do Centro de Referência em Direitos Humanos da UFPB e militantes da Luta Antimanicomial. |
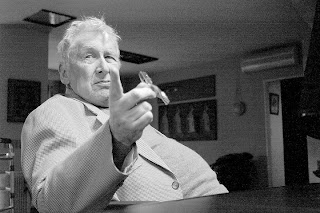


Comentários